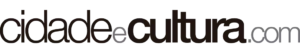Apesar de ser mundialmente conhecida como Lost City, para José Luís, guia indígena que me levou até o destino, esse era um nome para gringo ver. Porque de perdida a cidade nunca teve nada; sempre pertenceu aos agrupamentos indígenas que habitam a Sierra Nevada de Santa Marta e seu nome é, na verdade, Ciudad Teyuna.
O contexto
O território sagrado pertenceu ao grupo Tayrona e acredita-se que a cidade foi construída no século IX, cerca de 600 anos antes da construção da famosa cidade inca de Machu Picchu. Entretanto, diante da colonização espanhola no século XVI, a população indígena que habitou a área foi dizimada; estima-se que nas 170 terrazas que ainda restam no parque arqueológico de Teyuna viviam entre 4 e 10 mil pessoas. A Ciudad Teyuna ficou encoberta pela mata densa do norte colombiano – região chamada de Inferno Verde – por cerca de 400 anos, até que no começo da década de 1970 arqueólogos encontraram às margens do rio Buritacá o começo da escadaria de 1200 degraus que ascendem até a cidade.
Desde então, a história da região tem sido conturbada; grupos paramilitares como as FARC, outros produtores de cocaína e o exército colombiano disputaram o controle sobre a Sierra Nevada que pertence originalmente aos indígenas; em 2003, oito turistas foram sequestrados nos arredores da Ciudad. Porém, a partir do ano de 2005 a região foi pacificada e desde 2009 é monitorada por ONGs e o exército colombiano se faz presente durante todo o percurso.
Portanto, vamos falar de seus nativos; o agrupamento indígena Tayrona atualmente se subdivide em quatro etnias: Wiwa, Kogui, Arhuaco e Kankuamo. E é sob essa perspectiva que foi traçada minha trajetória; José Luís, um Wiwa, e Alberto, um Kogui, foram os guias que levaram o grupo de dezessete pessoas até Teyuna. Tivemos sorte por ser o último grupo a subir em agosto, estando a trilha mais vazia; ao longo do mês de setembro a cidade fica fechada pelo alto índice de chuvas e por ser um período de purificação no calendário indígena; nesse mês, lideranças indígenas se reúnem na Ciudad Teyuna para debater sobre diversas questões do território, algumas delas que envolvem o turismo. José Luis nos contou que atuava como guia há 10 anos e, por ser um dos guias indígenas mais antigos da região, permanecia na Ciudad em setembro para representar o turismo, importante atividade do local.
Nascer do Sol José Luis e Alberto trilhando
A trajetória
Saímos do centro de Santa Marta em dois carros até o vilarejo de El Mamay; uma viagem de três horas entre a rodovia e estradas de terra. Esse é o último ponto de acesso por carros e a partir dali seriam aproximadamente 50 km de caminhada em meio a uma natureza exuberante de fauna e flora e toda a malha de rios e cachoeiras que banham a Sierra Nevada.
No primeiro dia a caminhada é intensa pela maior variação de altitude; depois do almoço em El Mamay, subimos entre vales de plantação de café e outros insumos. Essa primeira parte da caminhada se dá entre fazendas, onde habitam camponeses com pequenas plantações e criação de gado. Durante a caminhada fizemos algumas paradas para comer frutas e apreciar a vista; em todo o percurso foram constantes os pontos com melancia e laranja para o lanche para aliviar o calor que fazia.
Ao final do dia chegamos ao primeiro acampamento e tivemos um aviso de nosso guia José Luis: a Wiwa Tour, agência de turismo que escolhi, havia construído seu próprio acampamento antes do alojamento compartilhado entre as outras agências. Isso significa que éramos somente nós do grupo, ao invés de um acampamento lotado com cerca de 150 pessoas, como eram os outros à frente no percurso. Ao longo dos quatro dias de caminhada isso significou muito, pois estávamos sempre bastante confortáveis com chuveiros e banheiros vagos e o entrosamento entre o grupo foi crescendo conforme cada quilômetro era percorrido. Havia no grupo de dezessete pessoas muitos franceses e francesas, um casal de holandês e uma sérvia, duas pessoas da Inglaterra, três colombianas e somente eu de brasileiro.
Os bandidos (apelido carinhoso do grupo) O “Inferno Verde”
Nesse dia José acendeu uma fogueira e pediu que todos se reunissem ali para explicações sobre a história da Sierra Nevada, ritual que se repetiu todos os dias no cair da noite, após o jantar. Sua fala teceu a origem da agência: a Wiwa Tour, que carrega o nome de uma das quatro etnias da Sierra, é uma agência inteiramente composta por indígenas, desde os guias até os atendentes na cidade. Portanto, a renda produzida pelo turismo dessa agência retorna às famílias indígenas. E isso foi verificado por nós, intrusos naquele território místico, durante a caminhada, o que conto mais à frente. Existiam muitos outros grupos na trilha, mas todos com guias não-indígenas.
O guia explicou também como se dava o ritual de mascar folhas de coca, a fim de instruir e quebrar qualquer preconceito de alguém do grupo; em suas palavras, mascar coca é um ato de meditação e autoconhecimento que o indígena faz. O processo tem duas peças fundamentais: a folha sagrada da coca e o danburro, que é uma cabaça com um palito dentro. Seu interior está recheado com pó de conchas moídas; assim, o indígena pega uma porção desse pó com o palito e leva à boca, onde está mascando as folhas de coca. A mistura entre o pó, a saliva e as folhas trituradas forma uma pasta; então, ele passa esse palito nos dentes e depois na extremidade da cabaça. A mescla entre os três ingredientes seca e forma uma capa dura ao redor da cabaça e esse ato é o que José caracterizou como a escrita de sua vida. Conforme disse: “no danburro escrevo meus pensamentos mais profundos e positivos sobre mim e sobre a vida, estou pensando e meditando, isso me dá energia”. E com seu danburro em mãos, fiel companheiro de todo homem indígena que atinge a maturidade, José Luiz nos conduziu pelos quatro dias de caminhada.
Em um país notório por histórias sobre o tráfico de drogas, ver o lado ritualístico da folha de coca em um uso religioso de povos tradicionais, sem qualquer intenção de entorpecimento e lazer, é, sem dúvidas, uma experiência que nos faz quebrar paradigmas e rever a história que conhecemos sobre a Colômbia; a conversa com José naquela noite foi extremamente produtiva.
No segundo dia, assim como nos que seguiram, acordamos às quatro e meia da manhã. José e Alberto, os guias, e o tradutor Victor levantavam cheios de ânimo para, junto da cozinheira Sandra e seu assistente, prepararem as refeições para todos. A comida era sempre muito bem servida em pratos já montados, com variedade a cada refeição; sou vegetariano há quatro anos e digo que os dias de trilha foram os que comi melhor em minha estadia na Colômbia. A fome diante do esforço de trilhar o dia todo ajudava, mas, sem dúvidas, Sandra é uma ótima cozinheira.
A caminhada começava logo cedo, às cinco e meia, com os primeiros raios de sol do dia. Quinze minutos de caminhada e já me encontrava molhado de suor, pela umidade e calor da região. Todos carregavam suas próprias mochilas e água, enquanto Victor liderava o grupo à frente e José ia atrás; isso respeitava as particularidades do ritmo de caminhada e preparo físico de cada pessoa do grupo. Em minha trajetória escolhi ir bem devagar, apreciando os pequenos detalhes da imensidão de biodiversidade na Sierra Nevada e registrando os momentos em fotografias. Assim, fiquei amigo de três colombianas que também iam na retaguarda do grupo; essa escolha também me foi valorosa pois pude compartilhar um pouco a cultura brasileira com elas e aprender muito mais sobre as nuances culturais do país que estava visitando.

Nesse segundo dia pudemos ter um momento de lazer no rio Buritacá, onde o grupo permaneceu algumas horas antes do almoço. De águas límpidas e geladas, o rio acompanhava toda a trilha até Teyuna. A partir desse ponto José Luis nos alertou que o território era todo indígena e não mais pertencia ao governo colombiano; ali deveríamos respeitar a figura de todos os indígenas que cruzássemos pelo caminho, dando-lhes passagem e não apontando câmeras sem pedir permissão ou tendo qualquer postura invasiva. José pontuou com veemência que o território que estávamos visitando era sua casa e de seus pares, então devíamos total respeito com o que lhes era sagrado.
Durante todo o percurso cruzávamos muleiros, homens com carreatas de mulas que levavam mantimentos para os acampamentos. Também cruzamos no caminho algumas aldeias indígenas como Mutanzhy, com suas plantações de folha de coca e as tradicionais habitações feitas de barro, madeira e palha. Essas habitações indígenas são muito interessantes pelo aspecto de seus telhados: todas possuem duas pontas, em alusão aos picos Bolívar e Colón, na extrema altura da Sierra Nevada de Santa Marta. Isso demonstra a incorporação das figuras de não-indígenas ao imaginário dos grupos que ali habitam, apesar de todas as mazelas na história autóctone colombiana.
Era frequente a presença de indígenas nativos na trilha, das mais variadas idades. No caminho cruzamos uma escola destinada às crianças indígenas da região; estudavam ali, segundo Alberto, até 30 crianças. Como professor de História ver as crianças em uma sala de aula imersa no verde da Sierra foi muito significante.

Outro momento se mostrou bastante peculiar: o cumprimento entre os homens indígenas se dá pela troca de folhas de coca. Todo homem que atinge a maturidade carrega uma mochila – bolsa tecida em folha de mincã pelas mulheres para seus companheiros – que contém as folhas e o danburro. Em uma das paradas em uma aldeia, pudemos conhecer o processo de tratamento da folha e a produção da mochila com sua fibra.
Assim, quando os homens se encontram, trocam punhados dessas folhas; observei um grupo de cinco homens enfileirados na frente de José, dando-lhe cerca de três mãos de folha cada um, enquanto José retribuía com apenas uma mão. Lhe questionei sobre a quantidade e José elucidou que a quantidade de folhas de coca dadas deve ser proporcional ao respeito mostrado pela outra pessoa; como ele era uma liderança indígena que defendia o turismo sustentável e o respeito àquele território, seus pares lhe reconheciam como um homem muito respeitável.
Também perguntei a José o que ele pensava de não-indígenas como eu comprarem uma das mochilas para trazer ao país de origem e guardar nela objetos diversos, diferente de seu uso tradicional. José disse que se tinha de comprar, que fosse em uma das aldeias no caminho da Sierra e não na cidade, pois ali eram mais baratas e feitas originalmente por indígenas. Ainda, completou dizendo que, por ser eu um professor de História, que levasse a mochila e passasse a meus alunos e alunas o conhecimento que havia aprendido ali com ele. Portanto, não via problema em não-indígenas utilizarem a mochila, desde que conhecessem as nuances de sua história.



Assim, depois de mais um dia de caminhada sob calor intenso e chuva torrencial, chegávamos a outro acampamento da Wiwa, onde um prato farto de comida preparado por Sandra nos esperava. Essa segunda noite foi mágica: nosso acampamento ficava às margens do rio e estávamos a poucos quilômetros da Ciudad Teyuna. Acordei no meio da madrugada enrolado em cobertas na rede envolta no mosquiteiro e fiquei encantado com o barulho ensurdecedor que fazia o rio, após a chuva da tarde característica das florestas tropicais. Entre barulhos da mata e o som das águas do Buritacá no breu da noite, tinha a certeza de estar em um lugar remoto e precioso.

Na manhã do terceiro dia o ritual se repetia: arepas colombianas e café às quatro e meia, mochila nas costas e botas no pé às cinco e meia; José prezava por organização e pontualidade com o grupo. E assim começou o dia de ascensão até a Ciudad Teyuna. Chegando às margens do rio Buritacá, avistamos os mesmos degraus encontrados há 50 anos atrás por exploradores que diziam ter encontrado a cidade “perdida” e começamos a subida; 1200 degraus inclinados e escorregadios, cheios de limo. Um passo em falso e seria um boliche de gringos metidos a aventureiros vestidos em roupas da Decatlhon.

Ao final dos 1200 degraus, às sete e dezessete da manhã, estávamos na entrada da Ciudad, uma área de aproximadamente 2 km². Antes de entrarmos, José Luis nos apresentou um círculo de pedra e fez uma oferenda com folhas de coca no centro do círculo, o que disse ser um pedido a seus ancestrais de permissão de entrada do grupo e proteção na trajetória de retorno.
Identificação da terraza Terrazas de Teyuna
Nas três horas que permanecemos no sítio arqueológico José Luis e Alberto explanaram a história do local; o que chama muito a atenção é a divisão em castas das terrazas. Na parte alta da cidade localizavam-se os líderes políticos e religiosos, enquanto na parte baixa da entrada ficavam os cidadãos e cidadãs comuns. Conhecemos também uma pedra tombada na região central do parque, que José mostrou ser um mapa utilizado pelos Tayrona; a pedra possui três estrelas, pontos sagrados ao grupo, interligados por linhas, que representavam as rotas utilizadas. As três estrelas são a Ciudad Teyuna, a aldeia de Gotsehy e Pueblito, sendo essa última localizada no famoso Parque Tayrona, no litoral ao norte de Santa Marta. Segundo contou José, a pedra havia sido tombada por saqueadores que acreditavam haver ouro dentro de sua base.

Base de uma terraza A maior terraza As terrazas mais altas
No topo de Teyuna ainda existem algumas casas que abrigam o grupo indígena que reside no lugar. Ali, como exclusividade por estarmos com um guia indígena, pudemos conhecer a companheira do Mamo; esse é um líder espiritual que toda aldeia possui, um ancião. A senhora de baixa estatura, vestes brancas de algodão e colares com diversas miçangas respondeu algumas perguntas e presenteou cada pessoa com um cordão com as mesmas miçangas coloridas que carregava no peito, cujo cada cor continha um significado.

O regresso
Depois disso, partimos; o retorno da Ciudad Teyuna foi quase melancólico. Todos no grupo estavam encantados com a beleza natural do lugar e a riqueza cultural de seus habitantes. O retorno é mais rápido, durando entre a metade do terceiro dia e o quarto dia de caminhada. Assim, eu retornava com a certeza de que havia conhecido ali um território sagrado de belezas e valores impossíveis de se reproduzir em uma tela de computador, por texto ou fotografia. A quem deseja visitar a Ciudad Teyuna, mais do que um calçado confortável e pouco peso na mochila, recomendo levar consigo o peito aberto e um caderno de notas para o aprendizado rico e imensurável que se encontra a frente; para os muitos encontros e achados que estão na trilha da cidade “perdida”.
José Luis meditando com seu danburro Alberto trilhando
Veja também a matéria sobre a Catedral de Sal de Zipaquirá